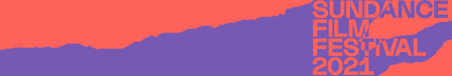



 Há muito de “Woody Allen” na direção de Rebecca Hall: a fotografia em preto & branco clássic, a passagem do tempo marcada por notas de piano, um figurino minimalista, poucas locações… o foco mesmo fica nos atores, na sutil interação entre Ruth Negga e Tessa Thompson e, posteriormente, André Holland, e como através da teatralidade se constrói uma novela para os anos 20, um “romance” de mulato trágico nas entrelinhas, no dito/não dito, feito de olhares e pouco mais de um roçar de mãos, quase um fiapo narrativo. E, todavia, um grande filme visto aos olhos de suas atrizes, toda a história ali em suas expressões, e que cresce, e se torna mais intenso, até não haver mais volta, como um grande melodrama de Douglas Kirk.
Há muito de “Woody Allen” na direção de Rebecca Hall: a fotografia em preto & branco clássic, a passagem do tempo marcada por notas de piano, um figurino minimalista, poucas locações… o foco mesmo fica nos atores, na sutil interação entre Ruth Negga e Tessa Thompson e, posteriormente, André Holland, e como através da teatralidade se constrói uma novela para os anos 20, um “romance” de mulato trágico nas entrelinhas, no dito/não dito, feito de olhares e pouco mais de um roçar de mãos, quase um fiapo narrativo. E, todavia, um grande filme visto aos olhos de suas atrizes, toda a história ali em suas expressões, e que cresce, e se torna mais intenso, até não haver mais volta, como um grande melodrama de Douglas Kirk.
De fato, há muitas nuances nessa história, uma adaptação da novela homônima de Nella Larsen, um conto renascentista do Harlem sobre duas mulheres negras, cada qual podendo se “passar” por brancas, mas vivendo em lados opostos dessa linha de cores em Nova York. É uma narrativa íntima e altamente subjetiva que usa a “passagem” literal e metaforicamente para explorar não apenas a identidade racial, mas o gênero: as responsabilidades da maternidade, sexualidade e o desempenho da feminilidade. Isso em tempos de segregação estrita, é um negócio arriscado, o que torna a projeção cada vez mais num thriller psicológico sobre obsessão, repressão e as mentiras que as pessoas contam a si mesmas e aos outros para proteger suas realidades cuidadosamente construídas, um drama sobre cruzar fronteiras, entrar furtivamente em uma sociedade diferente e viver ali sua vida secreta, temendo as consequências da descoberta.
E não à toa, todo o conceito gire em torno de um grande noir feminino dos anos 20, que deveria ter sido exatamente assim se os estúdios de Hollywood o tivessem feito com negros na época. Disso surge a fantasia de descobrir um elo perdido, caso o mundo fosse melhor. Também retira a cor do reino do real e o torna abstrato, conceitual. O mundo não é preto e branco como nossos olhos o percebem, então sabemos que o filme opera em uma tradução. Isso também se aplica à forma como percebemos a raça. Ninguém é literalmente preto ou branco e ainda assim essas categorias são tão importantes que traduzimos automaticamente o conceito pelo qual nossos olhos realmente percebem. Em um processo semelhante, o filme brilhantemente tenta chamar a atenção e, com sorte, complicar: na tela, sim, vemos mulheres negras, mas como a fotografia está no preto e branco, isso nos tira um pouco da realidade, o excesso de iluminação nos “passa” outra impressão. Uma das cenas no hotel tem esse truque de mágica, quando um personagem autodenominado racista nunca dúvida por um só segundo que ambas as mulheres são brancas. Se isso foi porque ele não é observador, ou porque ele é um idiota, não ajuda a persuadir o público. Em cores, certamente não funcionaria. Mas no P&B, onde tonalidades e tons são mais simbólicos e difíceis de discernir, o que vemos é que o personagem foi apresentado a uma amiga de sua esposa, que ele sabe (ou decidiu acreditar) é branca, e porque em sua lógica racista uma mulher branca nunca poderia ser amiga de uma mulher negra, ele naturalmente presume que ela também deva ser branca. Mais tarde, quando o mesmo personagem encontra a mesma mulher na rua com outra pessoa negra, ela imediatamente parece negra, o silogismo se inverte e todas as suas ilusões cuidadosamente construídas são minadas de uma só vez. O poder de determinar quem é e quem não é negro é parte do poder de um homem branco em uma sociedade dominada pelos brancos, mas também está claro como a “realidade” da raça é escorregadia.
E assim, a câmera se mantém na ambiguidade, no jogo de aceitação/negação, seja se recusando a discutir o problema racial na frente dos filhos, ou se negar a profundidade do desafio de que outra mulher representa em sua vida, quão sedutora ela é, quão encantada ela está por ela, quão possivelmente até mesmo esteja atraída. Em algum nível, os personagens são as duas faces de uma moeda que fizeram escolhas de vida opostas. Eles são atraídos e repelidos por suas diferenças e isso produz uma espécie de química entre eles que é a fonte de tensão no filme. Ao filmá-los, Rebecca Hall pensa nessa dualidade sem parar, sobre como ser as duas coisas ao mesmo tempo – gay/hétero, homem/mulher, preto/branco – e o faz no minimalismo, nos espelhos, em muitos close-ups para captar os olhares roubados, olhares de esguelha e toda a saudade do passar do tempo em um filme sobre rostos, como os vemos, como os vemos sendo vistos e o que isso significa sobre suas vidas e seu senso de identidade.
(*) Crônica livremente inspirada da entrevista com a diretora, em Sundance
RATING: 74/100

TRAILER

TRILHA SONORA









